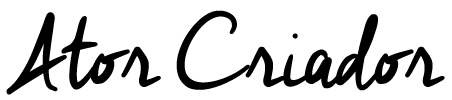Da liberdade para recontar

No último dia 10/06, o STF deu um importante passo para os que se importam com a arte de narrar. Carmen Lúcia, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, e Ricardo Lewandowski (indicados pelo PT nos últimos 12 anos); Gilmar Mendes (FHC, 2002), Celso de Mello (José Sarney, 1989) e Marco Aurélio de Mello (Fernando Collor de Mello, 1990), todos os Ministros que participaram do julgamento votaram a favor da inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil.
Na prática, jogou-se no lixo o abusivo comando legal que dizia ser absolutamente inviolável a vida privada de alguém, usado para censurar a publicação de obras literárias que tentassem respostas para entender o caráter de políticos corruptos, cantores simpáticos ao regime militar, empresários que organizaram caixa dois de governadores ou donas de casa que tiveram suas identidades indevidamente usadas em esquemas de corrupção.
Não importava a qualidade do fundamento do trabalho do escritor: provas robustas, testemunhos de pessoas próximas ao objeto de estudos, documentos, fotos ou vídeos. Tudo inútil. Se o biografado (ou parente dele) peticionasse uma simplória lauda avisando não ter autorizado a publicação, os famigerados artigos civilistas, aliados a uma formação patrimonialista e conservadora do nosso judiciário, autorizavam juízes a botarem fogo nos livros à venda, ou parar as rotativas daqueles que ainda não tinham sido impressos.
Não é que agora, com o reconhecimento do ranço ditatorial dos artigos, tenha sido liberado a impunidade dos autores. A censura poderá ser autorizada, sim, na medida em que todo direito humano é relativo. Ocorre que, daqui para a frente, uma obra biográfica só poderá ser retirada de circulação se ficar comprovada, em seu conteúdo, a divulgação de mentiras ou ocorrência de “dano material, moral ou à imagem”, podendo ser punida com a respectiva indenização, em obediência ao artigo 5º, inciso V, da CFRB/88.
O gênero Biografia na literatura brasileira ainda balbucia, evidentemente, por todas as pauladas que recebeu nos últimos anos. Paulo Cesar de Araújo e Ruy Castro são exemplos de corajosos escritores que ousaram antecipar o óbvio, sofrendo na pele (e bolso) o resultado de séculos da ocupação dos órgãos de controle social (polícia, MP e Judiciário) por uma elite patrimonialista que morre de medo de outras versões da História, se não aquela oficial, escrita por ela própria. De acordo com essas pessoas que tem poder sobre as forças coercitivas do Estado, o político sempre foi honesto, o cantor sempre foi um sucesso, o empresário apenas um exímio técnico e a dona de casa não existe. Por causa do medo em ser processado, tivemos poucas (mas boas) biografias.
Por outro lado, ao contrário da literatura, o audiovisual deu passos significativos em retratar o mundo real, apesar de recalcitrante. Ou pelo menos foi mais ousado. Com exceção das séries “biográficas” sobre vultos históricos produzidas pela Rede Globo (perfumarias estéticas que nada somam ao debate social), o cinema tentou ir além da cópia de um “release” da assessoria de imprensa.
Já me desculpando pela injustiça das citações que me esquecerei, em 62, Roberto Farias filmou “O Assalto ao Trem Pagador”, que nada tem a ver com o famoso crime cometido na Inglaterra por Ronald Biggs. Pouco lembrado entre nós, ele reconta um fato ocorrido dois anos antes de a película estrear, quando ladrões pararam uma locomotiva-cofre e dela surrupiaram uma fortuna da empresa Estrada de Ferro Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Em 67, em “O Caso dos Irmãos Naves”, Luís Person mostrou os absurdos da polícia que torturou os irmãos que dão título à obra, no ano de 1937.
Sérgio Rezende, em 1986, conseguir realizar o filme “O Homem da Capa Preta”, contando a história de Tenório Cavalcanti, político que resolvia seus problemas com uma metralhadora 9mm, sempre a tiracolo.
Após longas décadas de escuridão cultural provocada pelo regime militar, a retomada da indústria cinematográfica nacional, a partir dos anos 90 do século passado, deu origem a uma onda profícua de biografias. São deste período os filmes “Lamarca” (1994), “Carlota Joaquina” (1995), “Mauá – o Imperador e Rei” (1999), “Villa-Lobos – Uma Vida de Paixão” (2000), “Olga” (2004) e “Lula, o Filho do Brasil” (2009). Em comum, um ponto: obras de caráter edificantes, que celebram seus biografados e que nada dizia além do que já era permitido a todos saberem. Digno de nota também o polêmico filme “Chatô, o Rei do Brasil”, de Guilherme Fontes, cuja produção começou em 1995 e promete estrear até o final deste ano.
Interessante notar que, em algumas ocasiões, os realizadores optaram por obras, digamos, bioficcionais, onde realidade e ficção se confundem, inovando parte das histórias da vida de personagens que existiram, sem se saber ao certo o que é verdade ou mentira, como fez Cacá Diegues com a escrava Xica da Silva em filme homônimo (1976). Recentemente, essa ferramenta narrativa focou-se na evolução do crime organizado dos grandes centros urbanos, como se observa em “Cidade de Deus” (2002), oportunidade em que Fernando Meireles lançou novas perspectivas sobre criminosos do folclore carioca. Da mesma forma, “Carandiru” (2003) e “400 contra um” (2010).
Mas em “Salve Geral” (2009) e “Assalto ao Banco Central” (2011) fica evidente a ficcionalização extrema de eventos reais, sejam os ataques do PCC em São Paulo, no primeiro caso, ou o grandioso crime do segundo filme. Nessas obras há uma fuga intencional da realidade, trocando-se os fatos, lugares, omitindo-se pessoas e os responsáveis pelos acontecimentos. Do ponto de vista político, são peças inofensivas, sem conteúdo crítico. Tanta timidez é compreensível, considerando que o assunto de ambas toca em interesses partidários que, se desagradados, poderiam lançar seus realizadores ao ostracismo da captação de recursos públicos.
Com o novo posicionamento do STF, atingimos um amadurecimento inédito dos princípios libertários do regime democrático. Ou seja, a decisão de banimento público da obra superou a simples autorização do biografado, para exigir um debate juridicamente qualificado que leve em consideração a importância dos relatos artísticos sobre eventos históricos. Questionar o que nos foi dito não pode ser tomado como ofensa, muito menos como ilegal.